Uma das principais causas do declínio da qualidade
narrativa e da estética visual no cinema fantástico tem sido a detrimental
influência visual dos reality shows e
dos videojogos; CGI, movimentos tremidos de câmara, rap ou hip-hop aos
berros, impossíveis POV subjectivos e colorações esverdeadas parecem ter vindo
para ficar: nem é preciso dizer SUCKER
PUNCH (2011) ou Uwe Böll para justificar este argumento. Curiosamente,
ambos os factores funcionam maravilhosamente ao serviço deste DEATH RACE 3: INFERNO, tal como tinham
favorecido já as duas anteriores entregas. Paul W. Anderson – que não é
propriamente alheio à adaptação de videojogos (RESIDENT EVIL e suas sequelas, que escreveu e/ou realizou) –
realizador por cujo trabalho até há pouco tempo pouca simpatia tinha, soube
evitar a armadilha de refazer o clássico de culto de Paul Bartel, DEATH RACE (1975) e, com o beneplácito
de Corman, surpreendeu com um filme entusiástico, competente, e com o seu q.b.
de comentário social como forma de justificar a extravagante violência
automobilística.
Quando DEATH RACE
estreou em 2008, com o cenário de uma economia americana colapsada, não deve
ter deixado de provocar um arrepio nos espectadores que começavam ainda a
descobrir o longo dominó financeiro despoletado pela falência do Lehman Brothers, conferindo particular
relevância à sua trama de exploração de uma corrida mortal como forma de
financiar os crescentes custos do sistema prisional privatizado. Juntamente com
o subapreciado REPO MEN (2009) de
Miguel Sapotchnick, foi um dos primeiros filmes a representar cenários de
horror económico após o soluço financeiro de 2008, o que terá conferido algum
grau de plausibilidade às excêntricas premissas de um e outro.
A história dos vários DEATH RACE, como a narração desta última entrega não deixa de nos
recordar, começa e acaba com Frankenstein, a estrela mascarada das corridas
letais que, a par do inovador DR. WHO
(1963-actualidade), oferece uma razão lógica e plausível para a passagem de
testemunho de Jason Statham no primeiro filme, para o surpreendentemente
agradável Luke Goss (da famigerada boys
band original, Bros) nas duas sequelas. Tendo começado com a típica história
de um encarceramento imerecido, perpetuado por uma incriminação que assegurasse
a sua participação nas corridas substituindo o original Frankenstein (David
Carradine) falecido num aparatoso acidente, o piloto mascarado (como um Jason
Vorhees tecnofantástico) oferece um excelente ícone anónimo para identificação
e gáudio das massas que acompanham as corridas no circuito prisional de
Terminal Island.
Depois de DEATH
RACE ter estabelecido a premissa da corrida mortal, as regras e a
recompensa (ao fim de cinco vitórias, a liberdade), e DEATH RACE 2 (2010) ter jogado de forma interessante com a questão
da identidade do homem sob a máscara, pouco mais resta a esta mais recente
entrega do que aumentar o grau de espectacularidade da acção e fazer variar o
cenário, tarefa que Anderson (argumentista) e Roel Reiné (realizador) fazem sem
hesitar. Uma OPA agressiva por parte do multimilionário Frost (Dougray Scott,
preenchendo o habitual papel do vilão britânico que tem dominado o cinema
americano) sobre a empresa de Weyland (Vingh Rhames) que explora as corridas,
serve como justificação para o cenário da corrida no deserto do Kalahari, o que
permite fazer o upgrade dos carros
musculados e blindados das primeiras entregas para verdadeiros colossos
todo-terreno que parecem saídos das oficinas de MAD MAX (1979-1985). Tudo o mais, todas as pequenas intrigas
secundárias, são apenas rodas dentadas da engrenagem no coração do filme: as
próprias corridas, filmadas com a precisão de um velho espectáculo de Hal
Needham, e a anos-luz das abstracções CGI da série THE FAST AND THE FURIOUS (2001-2010).
Não obstante a centralidade dos três grandes segmentos da
corrida, Anderson e Reiné empilham outros motivos de interesse puramente pulp, desde o pormenor dos guardas que
patrulham o perímetro prisional com corpulentas hienas, passando por duas cenas
de pancadaria com artes marciais, até à inesperada prova de selecção das
sensuais navegadoras que, tivesse sido filmada nos tempos áureos da AIP ou da New World Pictures de Corman, não
deixaria de incluir tops arrancados e corpo-a-corpo na lama (confirmando o
filme como um clássico de culto instantâneo), antes de culminar na violenta
apoteose com machados, lança-chamas e cabeças decepadas com que somos
bafejados.
O elenco de actores, que inclui os favoritos de culto
Danny Trejo (FROM DUSK TILL DAWN) e
Ving Rhames (PULP FICTION) parte do
qual transita dos filmes anteriores, entrega-se com gosto a este misto de filme
de acção, exploitation e tímido
comentário social, apesar de alguns apartes dos falsos anúncios televisivos,
seguindo na linha de outros semelhantes da obra de Paul Verhoeven (v.g. ROBOCOP, STARSHIP TROOPERS), se apresentarem como apontamentos
semi-satíricos que elucidam alguns pormenores da constituição do tecido
sociológico do futuro próximo imaginado pelo filme; o meu favorito: “o acesso ilegal ao live feed será punido com pena de morte, ou prisão
perpétua para os menores de quinze anos”.
Luke Goss possui inegável carisma no papel do mítico
Frankenstein e a belíssima Tanit Phoenix incendeia o ecrã à cabeça de um
deslumbrante elenco feminino que pouco mais faz do que cumprir a função de
regalo para os olhos e, para além do generoso decote que ostenta em todo o
filme, presenteia o espectador com a mais inesperada, absurda e gratuita shower scene de que há memória, de tal
forma que nos sugere a sua inclusão como um momento auto referencial face às
convenções genéricas. Não que isso constitua razão de queixa, seja como for…





















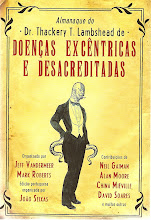
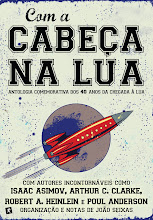










































Sem comentários:
Enviar um comentário